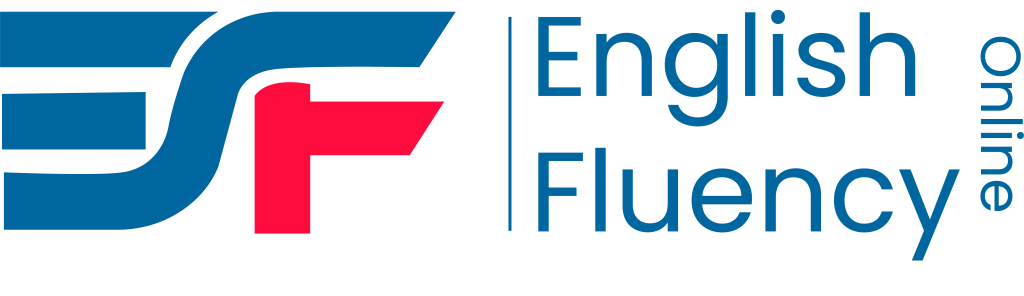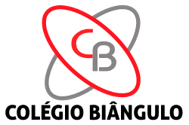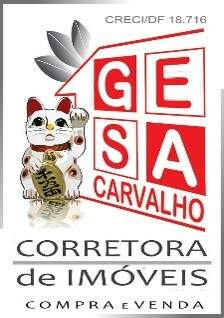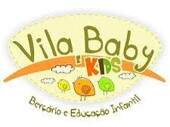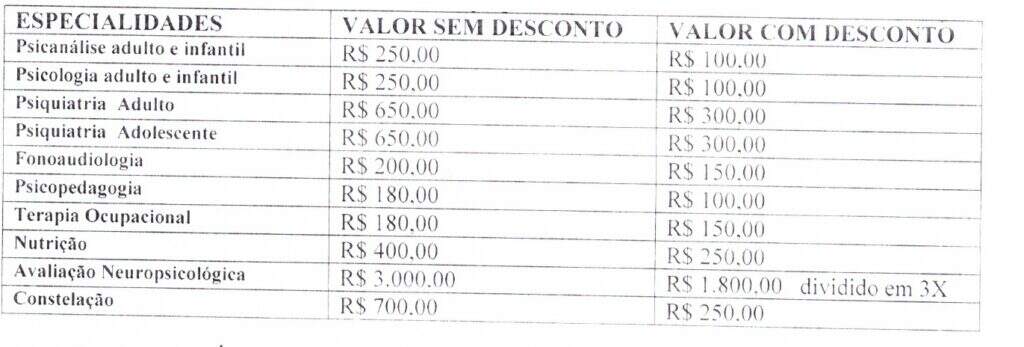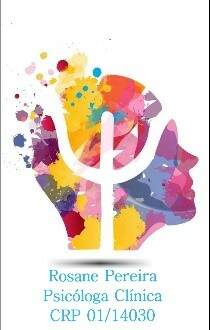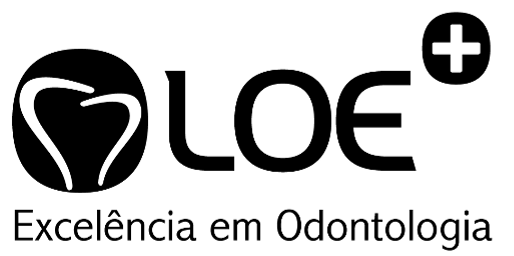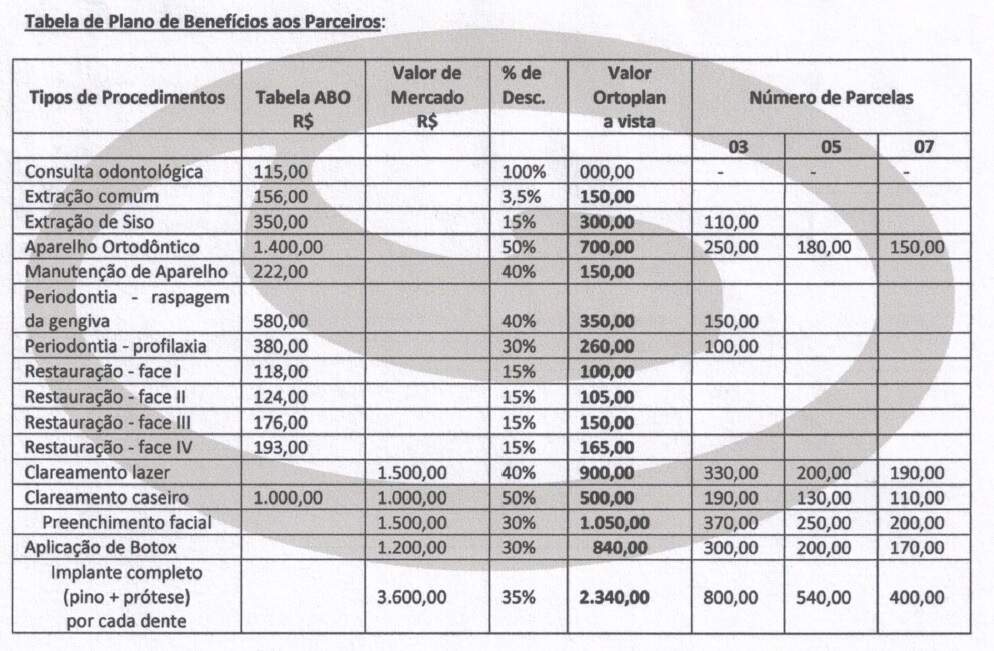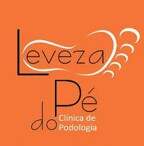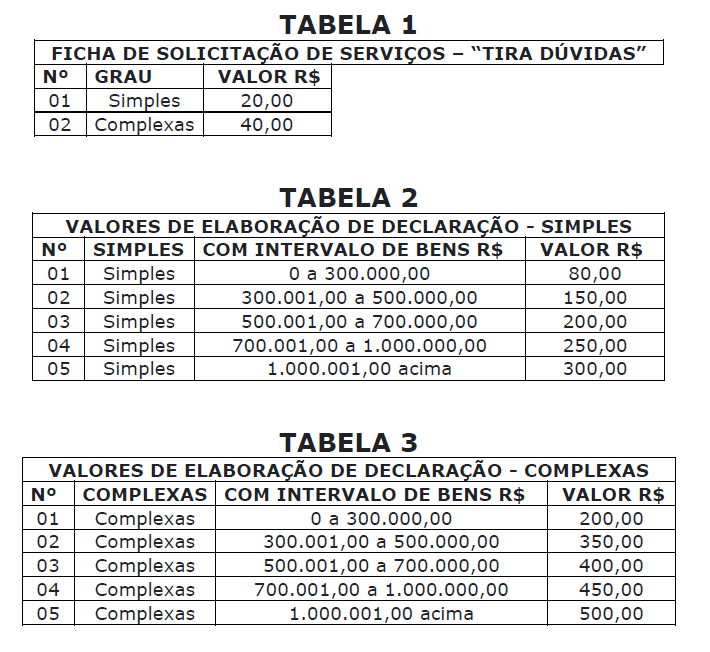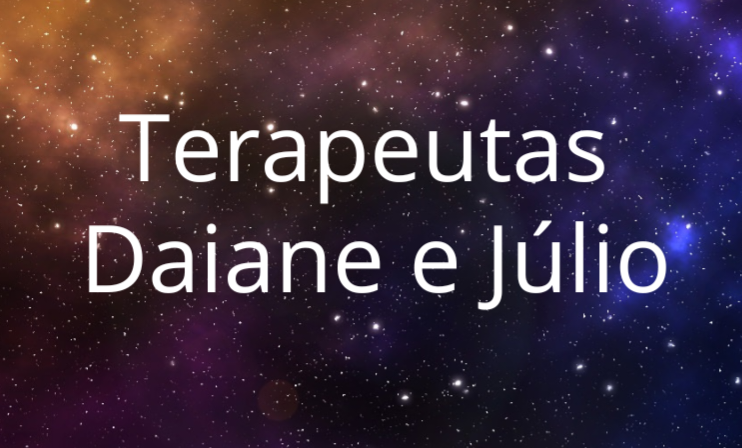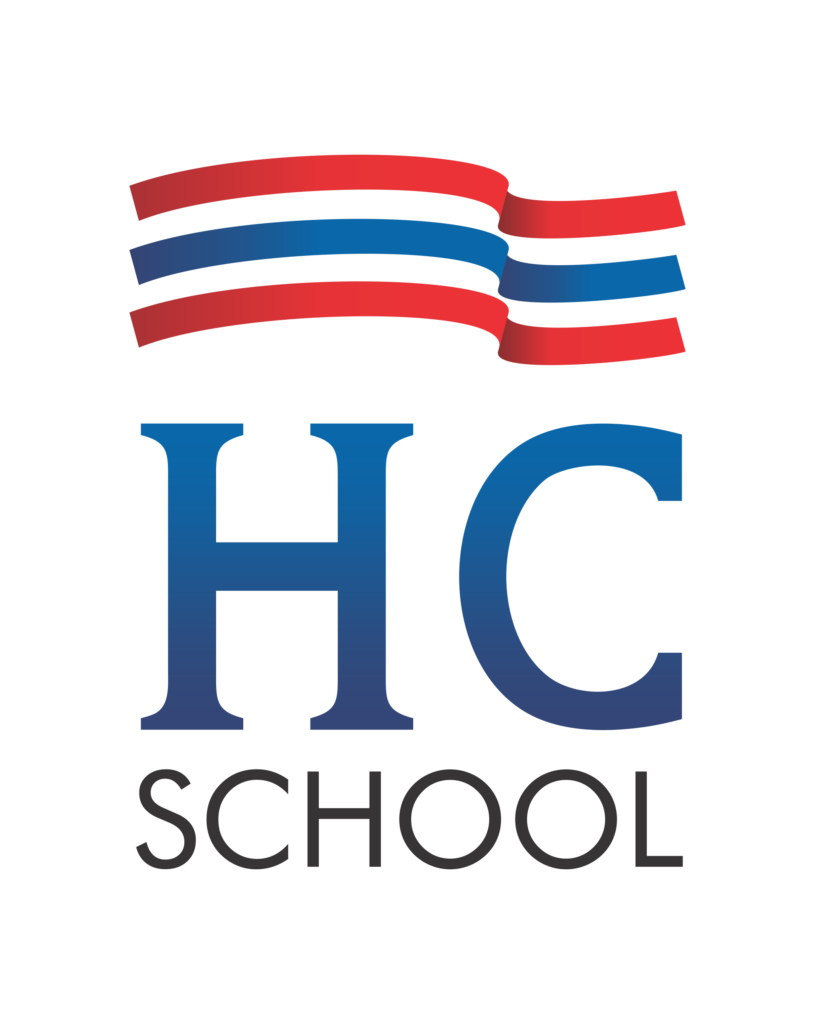A abordagem do conhecimento agroecológico propõe uma transformação em nosso modo de vida, voltada à sustentabilidade socioambiental e à justiça climática. Essa construção cotidiana, segundo movimentos e entidades do setor, combina as práticas e saberes de povos e comunidades tradicionais com os avanços de uma ciência comprometida com o Bem Viver e com a construção de uma sociedade mais agroecológica.
Celebrando 20 anos de existência, a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) é um dos espaços mais reconhecidos no Brasil e na América Latina na promoção do conhecimento agroecológico. Fundada em 2004, a ABA nasceu no campo científico e, ao longo de quase duas décadas, tem se fortalecido pela prática e pela militância agroecológica.
“Temos falado muito da agroecologia como ciência, movimento e prática. Eu gosto de dizer que poderíamos inverter esse tripé para prática, movimento e ciência. Por quê? Porque as práticas dos agricultores e agricultoras são históricas e se alimentam dos saberes tradicionais de povos indígenas e quilombolas. Como movimento, isso começou a se organizar no Brasil na década de 1990. E é somente no final dos anos 1990, início dos anos 2000, que o campo acadêmico passou a ser estruturado no país”, explica José Nunes da Silva, presidente da ABA, em entrevista ao programa de rádio Bem Viver.
A ABA reúne pessoas de diversas áreas do conhecimento e promove ações para a construção do conhecimento agroecológico. Com uma articulação interseccional e multidisciplinar, a associação organiza debates por meio de 12 Grupos Temáticos (GTs), que tratam de assuntos como agrotóxicos e transgênicos; campesinato e soberania alimentar; construção do conhecimento; cultura e comunicação; economia solidária; educação; infâncias; juventudes; manejo; mulheres; ancestralidades e saúde.
Esses espaços de debate mostram que, ao longo das décadas, a agroecologia foi além da defesa exclusiva, ainda que central, de uma alimentação saudável para toda a população.
“À medida que a agroecologia avança em outras dimensões, já não faz sentido ser apenas sobre alimentos sem veneno. Eles precisam ser alimentos sem veneno, sem opressão contra as mulheres e sem a exploração do latifúndio. É dessa forma que ampliamos e damos visibilidade à multidimensionalidade da agroecologia”, afirma José Nunes, professor do curso de Agroecologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
Além dos GTs, a ABA está organizada por territórios, valorizando a diversidade de realidades e saberes locais. A entidade também integra 126 Núcleos de Estudo de Agroecologia (NEAs), localizados em instituições de ensino de todas as regiões do país. Enquanto rede, a ABA faz parte da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), que promove espaços de intervenção e debate público.
Diante de desafios globais, como os impactos das mudanças climáticas e os alarmantes índices de fome, José Nunes defende o avanço do conhecimento agroecológico como uma solução sustentável para o futuro da humanidade.
“Somos parte da natureza. Então, como, vivendo em uma sociedade ultratecnológica, podemos reinterpretar isso e usar esses fundamentos como base para mudanças futuras? Pensamos que essa pode ser uma das últimas alternativas. Se não conseguirmos trazer esses valores para a releitura dos nossos modos de vida e, sobretudo, para nossas ações, pode ser que nos reste pouco tempo como civilização”, alertou José, ao anunciar a realização do Congresso Brasileiro de Agroecologia no próximo ano, antes da COP30, em Belém.
Confira a íntegra da entrevista:
Brasil de Fato: Como apresentar a ABA?
José Nunes: Atualmente, no Brasil, tem-se falado muito sobre a agroecologia como ciência, movimento e prática. Eu, particularmente, gosto de propor uma inversão nesse tripé, colocando a prática em primeiro lugar, seguida pelo movimento e, por fim, pela ciência. Por quê? Porque as práticas dos agricultores e agricultoras são históricas. Elas se fundamentam nos saberes tradicionais de povos indígenas e quilombolas. Como movimento, a agroecologia começou a se organizar no Brasil na década de 1990. E foi somente no final dessa década e início dos anos 2000 que o campo acadêmico começou a ser estruturado no país.
Eu prefiro não chamar esse processo de “campo científico”, porque temos aprofundado o entendimento de que existem diferentes formas de ciência. Assim, a ABA (Associação Brasileira de Agroecologia) surge como um espaço para organizar a produção de conhecimento acadêmico, que se alinha a essa ciência desenvolvida dentro das universidades e centros de pesquisa. Para nós, isso ocorre a partir do final dos anos 1990 e início dos 2000.
A ABA foi criada como uma associação que reunisse todas as pessoas envolvidas na construção do conhecimento agroecológico em universidades, centros de pesquisa – como a Embrapa e outras instituições públicas –, organizações não governamentais e movimentos sociais. Naquele período, existiam grupos espalhados por diversas regiões do Brasil que estavam desenvolvendo esse conhecimento, sempre em diálogo com diferentes formas de saberes. No entanto, sentia-se a necessidade de um espaço que aglutinasse esses esforços, e a ABA foi criada com esse propósito.
Um marco importante nesse processo foi o primeiro Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), realizado em 2003, antes mesmo da fundação oficial da ABA. Durante esse congresso, foi definido o indicativo para a criação de uma associação que unisse todas as pessoas envolvidas na construção do conhecimento agroecológico. Essa construção, em sua essência, estava ligada ao campo da pesquisa-ação e ao diálogo com povos e comunidades tradicionais, dentro do que chamamos de “lugar da academia”.
A ABA nasceu nesse contexto, muito influenciada por militantes do Rio Grande do Sul, como Francisco Caporal, José Carlos Costabeber, entre outros, muitos deles vinculados à extensão rural, inclusive a partir de instituições como a Emater-RS [Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul]. Com o passar do tempo, a ABA foi crescendo e se diversificando. A primeira mulher a presidir a associação foi a professora Irene Cardoso, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.
Ao longo dessas duas décadas, a ABA consolidou seu papel como um espaço essencial para articular e fortalecer a construção do conhecimento agroecológico. A associação foi criada para reunir essas pessoas e grupos, organizar congressos e seminários, estruturar grupos de trabalho e desenvolver meios de comunicação, como revistas científicas, que ajudassem a dar visibilidade ao campo acadêmico da agroecologia em formação.
Como podemos destacar a importância da ABA na construção de uma sociedade agroecológica nesses 20 anos?
José Nunes: O debate sobre a agroecologia está profundamente vinculado ao que chamamos de dimensão ecológica-produtiva, relacionada à produção de alimentos. Na década de 1960 e 1970, no Brasil, ocorreu a chamada Revolução Verde. Mas o que foi isso? Trata-se da intensificação do uso de produtos agroquímicos, como venenos e adubos sintéticos, para aumentar a produtividade agrícola. Foi nesse contexto que a agroecologia, surgindo da união entre a ecologia e a agronomia, começou a questionar esse modelo, apontando os danos causados tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana.
Inicialmente, a agroecologia se concentrou em enfrentar esse modelo hegemônico, também chamado de agricultura industrial, propondo alternativas que visassem à produção de alimentos mais saudáveis. Para isso, ela se consolidou como um campo de ciência que alguns chamam de “ciência cidadã”, “ciência engajada” ou “ciência militante” – uma ciência comprometida com a construção de novos conhecimentos, em diálogo com aqueles historicamente marginalizados nesse processo, como quilombolas, indígenas e caiçaras.
Esse esforço, entretanto, não se limitou a recuperar ou recriar os saberes tradicionais. Ele buscou integrar esses saberes com os conhecimentos da ciência moderna, visando criar alternativas sustentáveis para a agricultura e a sociedade. Assim, a agroecologia propõe que uma sociedade sustentável exige uma agricultura que não cause danos à natureza nem aos nossos corpos, entendendo-nos, inclusive, como parte da natureza.
Se essa foi a primeira grande contribuição da agroecologia – a defesa de uma agricultura ecológica e a valorização dos alimentos saudáveis e das culturas alimentares tradicionais –, posteriormente ela avançou para outras dimensões: políticas, culturais e econômicas. Essas novas frentes de ação incluíram a defesa de economias alternativas, como a economia solidária, a promoção de circuitos curtos de produção e consumo, e a criação de feiras que conectam a produção de alimentos no campo com os consumidores urbanos.
A parceria entre movimentos sociais do campo e da cidade também impulsionou lutas fundamentais, como a reforma agrária e a promoção de mercados justos e solidários. Assim, a agroecologia ampliou seu escopo, saindo de uma dimensão técnica e ecológica para abarcar aspectos sociais, políticos e econômicos.
Hoje, a partir da perspectiva da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), a agroecologia é compreendida como uma ciência comprometida com a transformação da sociedade. Um dos campos em crescimento dentro desse movimento é o que chamamos de “agroecologia política”. Ele reconhece que não basta alterar a matriz produtiva da agricultura para algo “mais verde” – algo que o capitalismo pode eventualmente fazer, pois ele se adapta às demandas de consumo.
Se, por exemplo, os consumidores passarem a exigir alimentos sem veneno, o capitalismo pode atender a essa demanda, mas continuará reproduzindo outras desigualdades. Por isso, a agroecologia vai além: ela propõe não apenas alimentos sem veneno, mas também uma agricultura livre de opressões, seja contra as mulheres, seja contra trabalhadores e pequenos agricultores, e contrária à concentração de terras nos latifúndios.
Dessa forma, a agroecologia expande seu alcance, destacando sua multidimensionalidade. Ainda que a produção de alimentos saudáveis permaneça no centro das atenções, ela precisa dialogar com questões sociais, econômicas, políticas e culturais para construir um futuro mais justo e sustentável para todos.
A próxima edição do Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) será no que vem em Juazeiro (BA). Já temos algum lema ou essência dos debates que serão aprofundados?
Desde o início da década de 1990, quando a Articulação do Semiárido começou a debater a mudança de perspectiva do “combate à seca” para a ideia de “convivência com o semiárido”, o semiárido nordestino – e também o norte de Minas Gerais – tem se transformado em um espaço de ricas experiências de resiliência e resistência. Sempre foi um lugar de resistência, mas, com essa mudança de abordagem, tornou-se também um exemplo de convivência harmoniosa com um bioma único.
Nesse contexto, as experiências agroecológicas têm crescido de forma significativa. No entanto, até agora, a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) nunca havia realizado um Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) no semiárido. Este será o primeiro, e estamos muito empolgados com essa oportunidade. Para nós, é uma chance de reconhecer e vivenciar de perto as iniciativas agroecológicas da região, por meio de trabalhos e experiências locais.
Acreditamos que este CBA reunirá não apenas muitos trabalhos de todo o Brasil, mas, especialmente, produções voltadas para a realidade do semiárido. Isso permitirá um diálogo aprofundado sobre as peculiaridades dessa região e suas soluções. A temática do congresso será focada na agroecologia como estratégia de resistência no semiárido, considerando também os desafios impostos pelas mudanças climáticas e a busca pela justiça climática.
Vale lembrar que estamos organizando o congresso em um momento estratégico, em 2025, quando o Brasil sediará a COP30 em Belém do Pará. O CBA ocorrerá de 15 a 18 de outubro, cerca de um mês antes da abertura da conferência global, marcada para 10 de novembro. Essa proximidade temporal é intencional, pois queremos que o congresso contribua diretamente para o debate global sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas.
Dessa forma, o CBA será uma oportunidade única para discutir a agroecologia como uma alternativa viável e estratégica, tanto no contexto do semiárido quanto no enfrentamento das mudanças climáticas. A partir disso, esperamos levar mensagens importantes do CBA para a COP 30, reforçando nosso compromisso com a construção de justiça climática e com a promoção de soluções sustentáveis para o futuro do planeta.
Como se pensar na agroecologia como um espaço aglutinador de conhecimentos?
Uma das experiências que começamos a aprofundar no CBA de 2019, realizado na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, foi a inclusão do Terreiro das Inovações Camponesas. Essa iniciativa, inspirada pela experiência promovida pela ASA [Articulação do Semiárido Brasileiro] e apoiada por agricultores experimentadores, valoriza o papel de homens e mulheres na construção do conhecimento. Essas pessoas não apenas produzem inovações práticas, mas também realizam pesquisas, desenvolvem métodos e sistematizam os resultados desses achados e inventos.
Em Sergipe, tivemos a primeira experiência com essa abordagem. Já no CBA de 2022, realizado no Rio de Janeiro, retomamos a organização do Terreiro das Inovações Camponesas em parceria com a ASA, fortalecendo essa dinâmica. Agora, ao olhar para a edição de Juazeiro, sentimos a necessidade de aprofundar ainda mais essa proposta. Por quê? Porque acreditamos que é nesse encontro entre diferentes saberes que nasce o verdadeiro conhecimento agroecológico.
Historicamente, as universidades e os centros de pesquisa, enquanto estruturas acadêmicas, estiveram, em grande parte, a serviço de um modelo de desenvolvimento que não representa os valores da agroecologia. No campo, a academia convencional tem sido uma aliada do agronegócio, desenvolvendo pesquisas que fundamentam e reforçam esse modelo. A agroecologia, por outro lado, busca se apropriar do conhecimento acadêmico acumulado – que pertence à sociedade como um todo – e integrá-lo a saberes indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais.
Esse encontro entre diferentes formas de conhecimento cria algo novo. O conhecimento agroecológico não é apenas aquele produzido nos gabinetes e laboratórios da academia, nem se limita ao que povos indígenas ou quilombolas faziam há séculos. Ele é o resultado do diálogo entre essas diferentes perspectivas. A ideia é que indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais, como ribeirinhos, também possam aprender com a academia, assim como a academia aprende com o conhecimento acumulado e protegido por esses povos.
Sabemos que as comunidades tradicionais e originárias são guardiãs de saberes fundamentais para enfrentar nossa crise socioambiental e climática. Esses conhecimentos se baseiam em relações mais equilibradas com a natureza, em contraste com o paradigma moderno, que se estruturou sobre o princípio do domínio da natureza. Nos saberes tradicionais, a natureza é central, integrando-se ao modo de vida como algo essencial e intrínseco.
O desafio para nossa sociedade ultratecnológica é reinterpretar essa relação e usar esses fundamentos como base para construir um futuro mais sustentável. Acreditamos que essa transformação é uma das últimas saídas para a crise civilizacional que enfrentamos. Se não formos capazes de compreender e incorporar essas perspectivas na revisão de nossos modos de vida e em nossas ações concretas, podemos nos ver sem tempo para reverter os danos causados.
Por isso, o encontro entre saberes acadêmicos e tradicionais, que gera um novo conhecimento, é vital. Ele se torna não apenas um espaço de troca, mas uma ferramenta de transformação para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais justo e sustentável.
Dentro desses 20 anos, escolha o que se pode considerar uma conquista, um desafio e um sonho da ABA.
Eu acredito que uma das grandes conquistas da ABA, ao longo desses 20 anos, foi se consolidar como uma referência que articula diferentes espaços: os cursos de agroecologia, os núcleos de estudo em agroecologia, além dos nossos eventos e publicações, como as revistas científicas. Esse avanço permitiu que a ABA se tornasse uma associação sólida e reconhecida, não apenas no campo acadêmico no Brasil, mas também em toda a América Latina. Acredito que, ao longo dessas duas décadas, alcançamos essa meta com êxito.
O desafio, no entanto, é seguir crescendo sem abrir mão dos princípios e fundamentos que nos trouxeram até aqui. É essencial manter o compromisso com a transformação social e evitar nos perder em uma polissemia do conceito de agroecologia, especialmente porque ele está em disputa, inclusive pelo que chamamos de capitalismo verde. Assim, o desafio da ABA é expandir, mas sem abdicar dos seus valores.
Realizar um congresso para 5 mil pessoas, por exemplo, exige responder a questões importantes: como preservar a metodologia? Como manter o nível de qualidade dos trabalhos apresentados? Como assegurar a coerência nas linhas editoriais das revistas? À medida que a ABA cresce, ela se torna cada vez mais pressionada por diferentes setores da sociedade e também pelo próprio mundo acadêmico. Lidar com essa pressão sem comprometer nossos ideais é, sem dúvida, um dos grandes desafios futuros.
Quanto ao sonho, eu imagino a ABA, daqui a 20 anos, como uma associação ainda mais inclusiva. Que tenhamos, no futuro, mais pesquisadores indígenas, mais pesquisadores e pesquisadoras negras, mais representantes das comunidades ciganas, e que a ABA tenha uma identidade cada vez mais plural. Sabemos que, devido aos privilégios históricos e às desigualdades estruturais nas universidades e na formação acadêmica no Brasil, ainda temos muitos limites a superar.
Por isso, deixo esse desejo como um sonho para 2044: que, daqui a 20 anos, todos e todas que estiverem vivos possam olhar para trás e avaliar o quanto avançamos desde 2024. Que a ABA continue sendo um espaço de inclusão, diversidade e transformação.

Fonte: Brasil de Fato